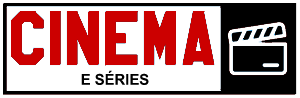Não sei qual cidade se passa aos olhos dele, primeiro longa da Cia Banquete Cultural como produtora e da Xique Xique Neon como pós-produtora, estreia na 18ª edição da Mostra do Filme Livre – maior mostra de cinema independente brasileiro – que acontece nos Centros Culturais Banco do Brasil, das cidades de São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, de março a junho.
Perguntada sobre a estética híbrida do longa, Thaís Inácio, diretora e montadora, comenta que “estamos num campo híbrido de construção da narrativa, quer dizer entender que a autoria é compartilhada com esses vestígios que desembocam no filme e que ao fim, não se pode determinar suas origens. Por isso, ao invés de propormos um personagem aos moradores, nós nos deslocamos até eles e os entendemos como “performers”, ou seja, fazendo a si mesmos em uma situação não necessariamente pertencente ao cotidiano. Assim, a ação que apresentamos no dispositivo é o que determina a linha em cena e o nosso encontro, entre realizadores e os que propuseram em situação “performática”.
Segue a entrevista na íntegra com Thaís e o diretor e protutor Jean Mendonça:
– Um personagem da peça teatral Áurea, a lei da Velha Senhora ganhou um curta chamado Negrinho, que serviu de inspiração para Não sei qual cidade se passa aos olhos dele. Como foi todo este processo?
Thaís Inácio (diretora e montadora): Na verdade, o curta fazia parte da peça. Era uma forma transmidiática de colocar um dos personagens em cena. O curta foi pensado desde o início da dramaturgia, assinada pelo Jean Mendonça e tomava conta de um argumento: a morte de uma criança. O personagem chamava-se Negrinho, e, no espetáculo, sua presença se diferenciava dos demais atores que estariam ao vivo com o público. Na época, o Jean dirigia a peça e eu, o curta. Estivemos em todo o processo de gravação juntos, e procuramos traçar algumas continuidades com o espetáculo através do convite à Cláudia Barbot e ao Marcus Liberato, que atuavam em Áurea, e ao Sérgio Pererê, que compunha a trilha, para fazerem participações especiais.
Jean Mendonça (diretor de performers e produtor): Tanto a peça, quanto o roteiro do curta “Negrinho”, tinham como motes principais a questão identitária e a tênue relação entre vida e morte numa comunidade isolada dos grandes centros urbanos. Na peça, esse isolamento era simbólico pois o casarão em que se passa a história encontrava-se no meio de uma metrópole. Já no curta e no longa, a ação desenrola-se numa comunidade quilombola e cidade do interior de Minas.
– Como é ter outro diretor trabalhando ao seu lado e houve algum tipo de distribuição de funções?
Thaís: O filme inicialmente foi dirigido por mim no set e na pós produção. Mas ao me deparar com o material na montagem percebi o quanto a performance do João havia trazido tantos dispositivos quanto eu mesma seria capaz de levar. Como disse, a partir do roteiro literário do curta “Negrinho”, do Jean Mendonça e do José Mauro, levei propostas paralelas como o uso do celular pelo João, as cenas da estrada, cidade, água, purpurina e pele. Enquanto João, através de sua recusa constante ao papel de ator, me trouxe inúmeros riscos (no melhor dos sentidos) nas gravações, modificou toda a equipe e escancarou o seu ponto de vista em relação ao filme, se posicionou. Para mim, seu conflito e como ele propôs isso em cena foram os pontos capazes de justificar a montagem do longa. Por isso, o provoquei neste gesto de assumir ao meu lado a direção.

– O que significa cinema independente para o Brasil?
Thais: A Mostra do Filme Livre é uma iniciativa que valoriza e até possibilita esse movimento no Brasil, nos mais variados níveis. No nosso filme, ela teve um papel fundamental na finalização (que inclusive continua em andamento devido à questões orçamentárias), e agradecemos a oportunidade de estar na competitiva RJ, caminhando com uma versão que é uma espécie de work in progress.
Na mesma diretriz, temos a Mostra de Tiradentes, A Semana, entre outros eventos. Muito embora o cinema independente nem sempre se restrinja a festivais, e se estenda a cineclubes como Subúrbio em Transe, Mate com Angu etc e pequenas exibições, como as do Cinemão, lidando com espaços alternativos. Percebo, através dos amigos que estão criando, a questão de quem leva um filme à frente de forma independente, sem recursos, mas hackeando formas de o realizar, é uma necessidade pessoal e coletiva. Por isso, para mim, cinema independente em um país que até 10 anos atrás tinha poucas universidades federais oferecendo o curso de cinema (e não rádio e TV ou Publicidade), é uma ousadia, mas é possível. É visível a diferença em termos de realização depois que o digital possibilitou experiências de diversos tipos e enfim, com isso, acredito que agora o que está se chamando de “novíssimo cinema brasileiro” se tornou um espaço acessível de formação, mas também de grandes feitos com orçamentos baixos ou inexistentes como Nova Dubai do Gustavo Vinagre, e filmes com os dos grupos Alumbramento, Cavídeo e Filmes de Plástico, entre tantos outros.
– Peça teatral, curta e longa metragem, quais destes formatos hoje, no país, é o mais fácil de se tirar do papel e qual o mais difícil?
Thais: Não há como comparar considerando apenas o formato, porque considerando mesmo somente fatores de produção, depende do tamanho do projeto. Mas dentre os formatos, eu diria que o curta continua com menos circulação, ainda que exista mais espaço, nem que seja na internet.
Jean: A realidade da cultura hoje em dia no Brasil é lamentável. Percebemos um movimento crescente de sucateamento dos órgãos reguladores e ministério, leis de incentivo pouco democráticas e um esvaziamento natural das salas de teatro e cinema. As séries de televisão ganham cada vez mais destaque. A população mundial e, consequentemente, a brasileira, assumiu um ritmo cada vez mais alucinado das grandes metrópoles desde o final do século XX. A era digital veio com toda a força e imprimiu uma nova forma de ver o mundo. Não que haja uma tendência à superficialidade das coisas, mas há sim, uma resistência ao aprofundamento de questões maiores que podem levar à transformação da humanidade. E para que esse aprofundamento não morra com os novos tempos, há necessidade de se rever a linguagem que se pretende trabalhar. Não adianta fazer uma peça teatral ou um filme, curta ou longa metragem, que atenda apenas a um grupo de intelectuais ou artistas do nosso convívio. A transformação também precisa atingir a base da população, precisa tocá-la de uma forma baste um para que o efeito cascata multiplique-se aos demais. Pela Cia Banquete Cultural, consegui realizar com muito êxito, já cinco espetáculos teatrais (“Amor e Restos Humanos” de Brad Fraser, “Áurea, a lei da Velha Senhora” de minha autoria, “Amável Donzela: o capturado” de Castro Alves, “Pobre Super-Homem – o avesso do herói” de Brad Fraser e “O Segundo Armário” de Antonio de Medeiros em cima do livro de Salvador Corrêa), um curta metragem (“Negrinho” de Thaís Inácio com roteiro escrito por mim e José Mauro Pinheiro) e este longa que agora estreia na MFL/2019 (“Não sei qual cidade se passa aos olhos dele” de Thaís Inácio e João Mendonça). É muito difícil levar adiante projetos que lidam com questões sensíveis à humanidade, como temas ligados à solidão nas grandes cidades, liberdade sexual, negritude, homofobia, transfobia e HIV. Poucos são os que se interessam em patrocinar a arte que se dispõe a abrir a mentalidade. O entretenimento e a indústria da fama absorvem todos os recursos e a atenção dos possíveis patrocinadores e da grande mídia. A sensação é que projetos que elevam o pensamento não podem seguir adiante, a não ser se forem feitos com a garra e competência dos idealistas e guerrilheiros. Não tenho dúvida que fazemos a arte de guerrilha e que aqueles que se envolveram conosco neste movimento foram todos transformados. Dos três formatos, o longa metragem é de longe o mais difícil de sair do papel. Os custos de produção e pós-produção são altos, por mais que se trabalhe com baixos orçamentos e que cada membro da equipe consiga assumir mais de um papel na gama de atividades que precisam ser desempenhadas para finalização da obra.

– O filme vai lidar, dentre outras coisas, com o choque de gerações. E como vocês vêem o tratamento de pais e filhos em relação ao tema?
Thaís: De alguma forma acabamos por privilegiarmos a potência dos que vem depois, demos espaço à essa rebeldia que está na figura do João ao recusar o filme que lhe é ofertado e ceder ao espaço que ele mesmo consegue para si. Porém, paradoxalmente, é o filme do pai que o faz partir de algum lugar, afinal, a reação se deve à provocação. E ficamos em um labirinto entre a negação e a criação. Eu me interesso nesse, e em outros trabalhos, pelo que a família representa em nossa experiência, esse espaço de lidar com a extrema diferença entremeados pelo afeto e o respeito. Mas logicamente essa é apenas uma das camadas do filme.
Jean: Lembro-me bem que foi durante os ensaios de “Amor e Restos Humanos”, primeiro projeto da Cia Banquete Cultural, numa conversa com o ator Marcus Liberato, que surgiu a ideia deste segundo projeto. Senti que precisava falar sobre a negritude para as próximas gerações e para meu filho, que tinha três anos na época e estava inserido numa família de classe média, de certa forma, protegido do restante do mundo e alienado sobre outros heróis esquecidos pela história oficial que ele também poderia se guiar. O longa e o curta, que têm “Negrinho” meu filho como performer principal e os vários moradores como protagonistas de suas próprias histórias, respondem a esta meu anseio de ensinar a ele, desde pequeno, que o mundo lá fora é muito mais amplo do que podemos imaginar e não podemos ficar numa casca de noz; é preciso desbravá-lo, abrir-se para o desconhecido e firmar lutar diárias. Nosso espaço não está garantido, ele precisa ser conquistado, mas de uma forma nobre, que não esmague nossos opositores. O conflito do meu filho em ser dirigido por mim no set de filmagem já me mostrou que ele tem uma personalidade instigante, que não aceita de bate-pronto o pré-estabelecido, que se questiona sobre o que pode ser bom também para ele e não apenas para o outro. Da mesma forma, também vimos que a atuação de D. Ilídia, a senhorinha no auge dos seus cem anos de vida, era de contestação. Ela, da mesma forma que o pequeno de cinco anos, recusavam-se a atuar ou a seguir as orientações de ações físicas propostas por mim no set de filmagem.
– Vocês têm novos projetos para um futuro próximo? Poderia nos falar um pouco sobre eles?
Thaís: Atualmente eu faço parte de uma plataforma de criação chamada Xique Xique Neon, com a fotógrafa Paula Melo, que também fez o filme Não sei qual cidade se passa aos olhos dele. Nosso foco é uma realização no audiovisual e fotográfica por mulheres, e de preferência, que se passe em Minas Gerais, local em que nascemos. Nosso principal projeto atualmente é o longa Passa Tempo, um sci-fi mineiro que conta a história do meu pai e seu primo, Nigim, um ufólogo natural da cidade de Passa Tempo. Nesse projeto a Ana Clara Costa assina o argumento, eu faço direção e montagem e Paula Melo, a direção de fotografia.
Jean: A Cia Banquete Cultural já se prepara para dois novos projetos no médio prazo: uma peça de teatro que também dialogará com o cinema (como aconteceu com “Áurea, a lei da Velha Senhora” e o curta metragem “Negrinho”), em que assino dramaturgia, roteiro e direção, e uma série televisiva, inspirada numa grande obra da literatura brasileira. Ambos os trabalhos, ainda em fase de concepção cênica, por isso ainda o sigilo dos seus títulos, versam sobre o empoderamento feminino na nossa cultura pós-moderna. Enquanto isso, pretendemos circular com o longa Não sei qual cidade se passa aos olhos dele por outros festivais nacionais e internacionais, assim como com o espetáculo teatral O Segundo Armário, em cartaz na cidade do Rio de Janeiro, nas sextas de abril, no Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Glória e que entre os dias 10 e 12 de maio, estará em Campos dos Goytacazes/RJ, no Teatro de Bolso Procópio Ferreira.
Crédito das fotos: Paula Melo
- Confira outras entrevistas do Cinema e Pipoca!